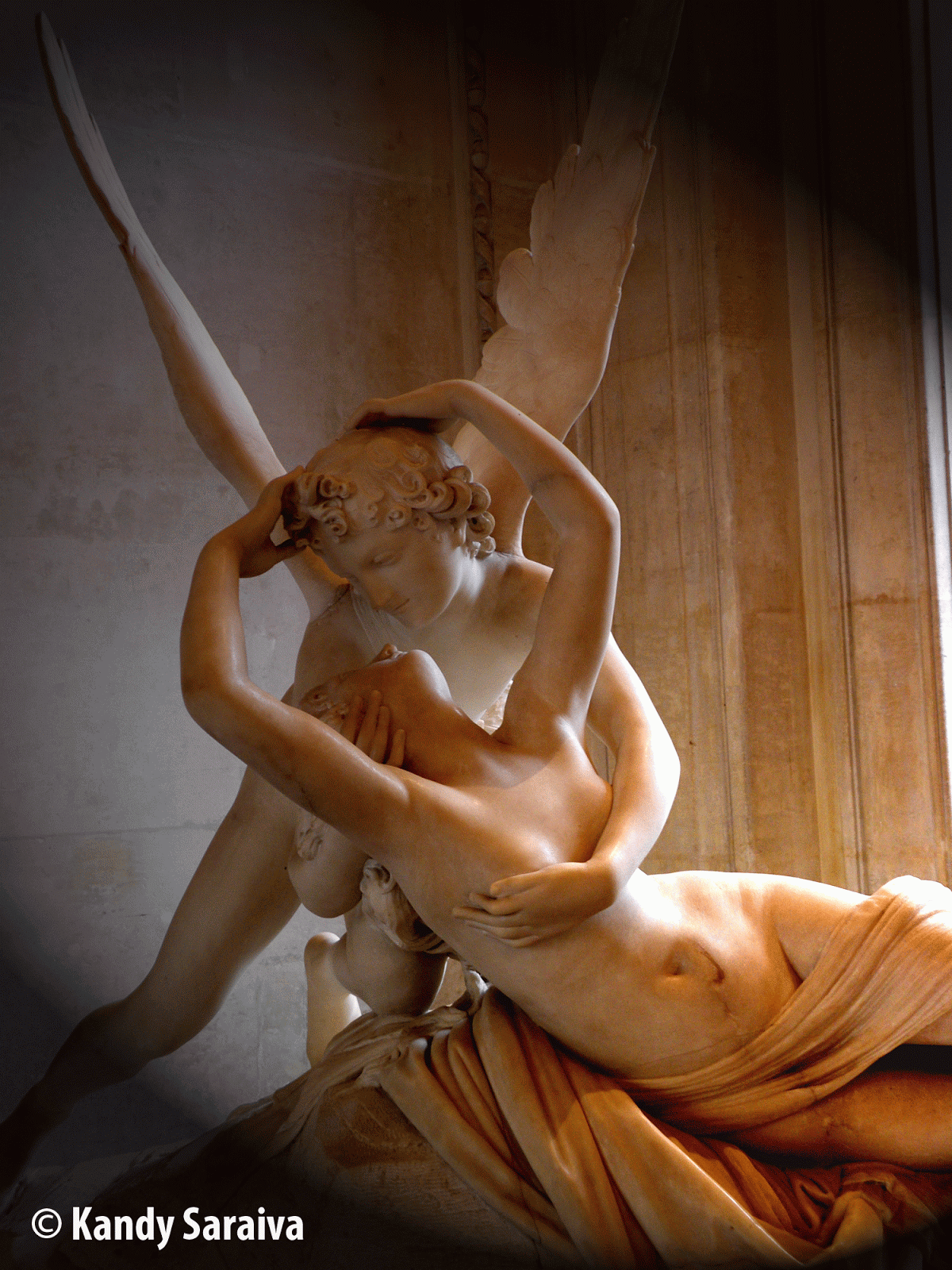“Viver é sempre dizer aos outros que eles são importantes. Que nós os amamos, porque um dia eles se vão
e ficaremos com a impressão de que não os amamos o suficiente”
Chico Xavier
Quando ela chega a mudez toma conta. Fica tudo atônito, suspenso. Muito embaçado, confuso e triste. É só nessa hora que ela é mais forte que o amor, por ser capaz de reunir de verdade, em carne e osso, principalmente osso, as pessoas.
Quando ela chega, é a essência que fica. De quem foi e de quem ainda está. Porque a sensação de última vez opera os milagres que o amor passa a vida tentando fazer.
Quando ser deixa de ser, o que permanece se torna mais importante do que tudo o que já foi. Emergem arrependimentos com os quais será preciso conviver, quando poderiam ter sido extintos no viver. Com viver é isso: carregar e pesar, relevar e guardar, esquecer e lembrar, constantemente lembrar, de um momento covarde, uma reação descabida, um silêncio coberto de pensamentos não ditos que poderiam ter feito toda a diferença.
 |
| Mulher vendendo lenços em um cemitério de Istambul (2013). |
Há gente que passa a existência toda em um eterno velório, apenas admirando a essência alheia, remoendo remorsos, entristecendo-se com a falta de movimento, mas sem se levantar da cadeira. Sem se levantar.
Há também quem mate outros antes de eles morrerem de fato, quer por uma procrastinada chance à paciência, quer por fraqueza preguiçosa e lenta de dedicar-se. É melhor assistir à TV. Ou comer um chocolate para enganar o amargor. Enfrentar dói. O travesseiro é mais macio.
Uma vida inteira para amar, fazer-se presente, interessar-se. Mas o ultimato da despedida é sempre mais forte, porque ela não tem amanhã, daqui a pouco, depois eu vou, deixa pra lá, ligo mais tarde, deixo para a semana que vem. Ela não deixa. Leva embora. E acabou-se.
O fim é um alívio mais duradouro que o durante. Morrer é mais fácil que amar. Mais rápido também. E extremamente mais covarde. Quanta injustiça a morte, mais preguiçosa, conseguir a proeza de juntar, na mesma hora e local, pessoas que se amam e justamente por isso deveriam se juntar mais vezes. Talvez por ser uma constante busca, o amor insira nas pessoas a certeza de que amanhã tudo estará como hoje, de que é possível esperar, de que o tempo é dominado pelo caráter humano, quando é justamente o oposto: ele é a foice.
É na morte que as pessoas são mais hipócritas. E mais desesperadas. É quando enfrentam a si mesmas com a implacabilidade do inevitável. Por outro lado, é também na morte que elas são mais solidárias, às vezes mais por susto que por sentimento genuíno.
As pessoas são mais unidas na morte que na vida. E essa verdade mortifica.