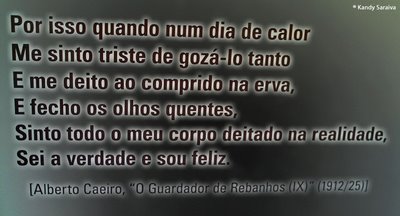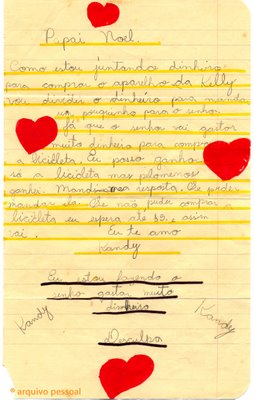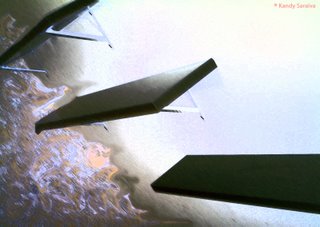
Se não bastasse a pressão que essa época pré-ano-novo geralmente causa nas pessoas, tal elucubração de Esperança fora motivada pela Dúvida, a irmã caçula e fiel, quase sempre estraga-prazeres: “O que você vai colocar nas prateleiras que ganhou, Esperança?”. Três prateleiras vazias no quarto, ultimamente tão bagunçado de aindas espalhados por todos os cantos, caixas amassadas amontoando quaisquer-dias, muitos pedaços de daqui-a-poucos pendurados em cabides desordenados.
Diante da Dúvida, Esperança resolveu colocar a ordem antes do progresso daquela bagunça toda. Mas olhava para as prateleiras e, com o indicador esticado sobre os lábios, pensava sem parar: “o que é que vou colocar aqui?”. Eram tantas as coisas das quais queria se desfazer. E outras tantas deveriam ficar organizadas, para que pudesse alcançá-las sempre, sabendo exatamente onde era o lugar delas. Puxa vida, eram apenas três prateleiras para aquela vastidão de vai-chegar, espera-aís, futuros e serás que Esperança decidiu ser democrática. Para não magoar seus pertences — porque há muito de sentimentos nas coisas que guardamos —, ela achou por bem usar as prateleiras para coisas novas, porque o ano seria novo, e tudo, então, deveria sê-lo também.
Sentou-se em sua cama fofa coberta por uma colcha de retalhos, que isso combinava com ela, e ficou matutando que novas deveria adquirir para colocar ali. Boas-novas, só podia ser. E o resto seria organizado ali mesmo, no chão, nas caixas, nos armários e cabides espalhados onde a Esperança dormia. O que não servisse ela poderia até passar para a Dúvida, que se encarregaria de dar um fim, se assim conseguisse.
Começou colocando amores. Achou melhor mais de um, porque há muitos tipos e são todos tão coloridos que ficariam bonitos ali, na prateleira mais alta. Para tanto, resolveu jogar fora os muitos ele-não-dá-continuidade-ao-relacionamento-mas-é-legal, sins-ele-vai-me-ligar e afins. Esse tipo de artigo não combinava mais com ela. Era uma Esperança renovada e queria amor de verdade, desses de tirar o fôlego, disparar o coração e trazer todos os oceanos do mundo aos olhos emocionados. Os suspiros tristonhos com pitadas de decepção que ficassem com a Dúvida. Esperança queria em sua prateleira algo mais concreto, que ela soubesse estar de fato ali quando ela precisasse, em que pudesse tocar.
Depois, escolheu saúde e disposição, que deixou lado a lado, em pé, amparadas por pesos de mármore em forma de estrela, que isso ficava lindo e impedia que saíssem dali. Também arrumou diversão, que não sabia por que cargas d’água escorregava da prateleira toda santa hora. Descobriu que ficava melhor na do meio, pois exigia um certo equilíbrio. Trocou os velhos minha-promoção-vai-chegar por trabalho-bem-feito-e-prazeroso. Jogou fora um monte de quero-ir, colocando no lugar uma dose generosa de viagens inesquecíveis. Desfez-se dos sorrisos amarelos e colocou na prateleira de baixo muita gargalhada sincera, com abraços de verdade e olhares profundos, daqueles que tudo dizem sem soltar palavra.
Mas ainda havia espaço. Esperança, então, resolveu deixá-lo lá, para muitos o-que-vieres. Desses há diversos modelos: novas amizades, aprendizado, experiência, desconhecido. Quando chegassem, precisariam de um lugarzinho.
Nem a Dúvida poderia achar defeito naquela arrumação porque, pela primeira vez na vida, Esperança tinha sentido determinação. Teria, finalmente, um ano novíssimo em folha, brilhando de limpo, cheiroso e diferente, livre das insistências tolas que em nada dão.
Estava resolvido. Era, agora, uma Esperança otimista, respirando limpo para um tempo novo, ali, ao alcance da mão e dos olhos, mais palpável, mais possível, menos ideal.
Pensando bem, aquelas prateleiras não tinham sido feitas sob medida, mas combinavam perfeitamente com Esperança. E isso bastava para um ano feliz.
P.S.: esta idéia na janela tem uma origem curiosa. Fui ao cinema ontem assistir a O amor não tira férias, filme água-com-açúcar que mostra duas protagonistas se livrando de valores que não lhes fazem bem, superando medos e realizando esperanças. Curiosamente, a expressão “colocar algo na prateleira”, que também existe em inglês (to put something on the shelf), no sentido figurado significa “livrar-se de algo pouco importante”, “deixar de lado o que não se quer mais”. Ganhei no Natal três prateleiras novas para o meu quarto e até agora penso no que colocar nelas, já postas na parede, num lugar em evidência. Por último, estamos prestes a entrar em um novo ano. Juntei tudo e deu nisso. Como sou subversiva, inverti a semântica da expressão, porque, nas minhas prateleiras em evidência, só cabe o que é importante e precisa estar ao alcance da mão.